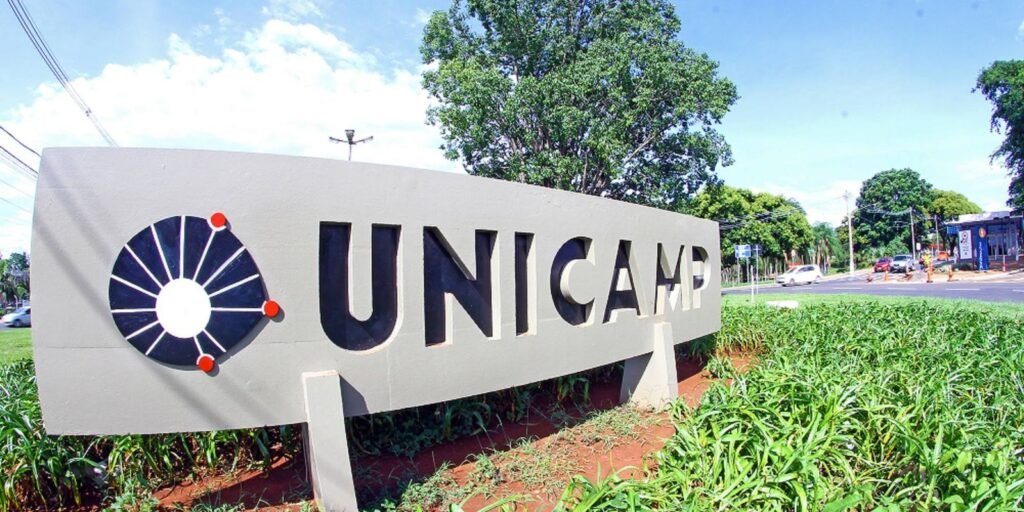No dia 2 de setembro de 2015, a fotógrafa Nilüfer Demir estava pautada para registrar a chegada de imigrantes paquistaneses na região litorânea de Bodrum, no sudoeste da Turquia. Mal sabia ela que, naquele dia, suas fotos mudariam para sempre o destino de milhares de refugiados.
Ao chegar à praia, Nilüfer se deparou com o corpo do menino Alan Kurdi, 3, estirado na areia. Era uma das 12 vítimas de um barco clandestino que tentava levar refugiados sírios até a ilha de Kos, na Grécia. “Meu sangue realmente congelou”, contou a jornalista à época.
Nessas situações, é imprescindível sensibilidade ao fotojornalista. Nilüfer teve o discernimento de que não se tratava de uma exposição banal de uma criança morta na praia. “Eu tive que tirar a foto e não hesitei”, afirmou a fotógrafa à agência de notícias para a qual trabalhava em 2015, a DHA Press.
A preocupação dela girava em torno do propósito da imagem. “A única coisa que eu podia fazer era me certificar de que essa tragédia fosse vista.” O esforço não foi em vão. Dias após suas fotos chocarem o mundo, a primeira-ministra Angela Merkel fez o discurso marcado pela frase “Wir schaffen das” (“Vamos conseguir”), ao sinalizar que a Alemanha abriria suas fronteiras aos refugiados.
Em seu livro “Diante da Dor dos Outros”, a filósofa Susan Sontag (1933-2004) ressalta o poder da fotografia num mundo tomado por imagens em sites, redes, TV e cinema. “O fluxo incessante de imagens constitui o nosso meio circundante, mas, quando se trata de recordar, a fotografia fere mais fundo.”
Para Sontag, o principal problema não é a abundância de imagens de guerras ou tragédias, mas, sim, sua descartabilidade. A tragédia do povo sírio é um exemplo inequívoco dessa argumentação. Cenas do desespero dos refugiados foram publicadas em larga escala desde o início da guerra em 2011.
Mas por que as fotos do garotinho Alan tomadas por Nilüfer Demir tiveram um efeito tão arrebatador, se, para o leitor, basta um só clique em outro link para se afastar dessas realidades? Em busca de respostas, recorro a dois conceitos basilares desenvolvidos pelo semiólogo francês Roland Barthes (1915-1980) em sua obra seminal “A Câmara Clara”.
Barthes concebe a ideia de “studium” e de “punctum”. Ele define “studium” como a interpretação racional de uma fotografia que envolve um determinado conhecimento cultural. Segundo o semiólogo, o “studium” opera na ordem do “to like”. Transita onde está o interesse do espectador.
Sob o prisma de Barthes, o campo do interesse seria insuficiente para explicar a dimensão estratosférica que tomaram as imagens de Alan estirado na praia. Mas é exatamente no “punctum” que reside a força das fotografias de Nilüfer Demir.
De acordo com o léxico de Barthes, “punctum” é um detalhe na fotografia que nos fere. Algo na imagem que pica ou perturba o observador. O “punctum” estabelece uma relação direta, inesperada e pessoal com a imagem. A vestimenta de Alan, com a camiseta vermelha, um shortinho azul e tênis novinhos: é ela que nos punge.
Os detalhes intrigam porque Alan poderia muito bem ser seu filho, seu irmãozinho, deitado na areia. A candura da imagem contrasta com a violência de um conflito em curso. Nada se parece com uma guerra. Mas Alan é uma vítima fora das trincheiras, longe de soldados, armas e explosões. Uma cena de guerra longe do campo de batalha.
O corpo inocente vergado sobre a areia calmamente tocado pelas ondas é uma clara metáfora da crise humanitária. Uma imagem que transcende a leitura superficial e provoca uma profunda reação emocional.
Podemos clicar em outro link, mudar de canal, virar a página. Mas os detalhes do menino Alan ficam na retina. Não é dever do leitor ficar atormentado com imagens violentas, tampouco a fotografia tem a obrigação de resolver o sofrimento causado pela notícia. Mas o fotojornalismo deve, sempre, servir como um convite à reflexão.